
A Caravana Nordeste Potência, entre 29 de agosto e 9 de setembro, percorreu 2.830 quilômetros, por diversos municípios de Alagoas, Bahia e Pernambuco, ouviu populações tradicionais, pesquisadores e outros atores que ajudam a compreender o processo de construção do que hoje é a Bacia do Baixo e Submédio São Francisco e como a região pode se desenvolver de forma menos impactante, ao considerar seus potenciais e tudo que foi feito até aqui, um alerta para os candidatos aos governos da região e de todo o País.
A equipe foi composta pelas influenciadoras digitais Luiza Allan, de Aracaju (SE), e Megh Melry, de Manari (PE), como porta-vozes; e por representantes da Apply Brasil, na coordenação; Jacaré Vídeo, de Recife, na produção audiovisual; e Eco Nordeste, na cobertura. O objetivo foi contribuir para a divulgação do Plano Nordeste Potência, que preconiza o desenvolvimento verde, com a recuperação do passivo socioambiental e a ampliação das fontes de energia renovável de forma justa e inclusiva na Bacia do Baixo São Francisco e no restante do Nordeste.
A expedição partiu de Recife (PE) e sua primeira parada foi na histórica Penedo (AL). Ao chegarmos, um grupo de moradores jogava conversa fora no calçadão às margens do Rio São Francisco. Antônio Reis da Costa, 67, viveu a maior parte da vida no Sudeste, onde foi bombeiro do Exército. Uma prova de sobrevivência o deixou com sequelas na perna que o obrigam a usar bengala. Antônio Alves Santos, 63, é corretor de imóveis em Penedo mesmo. O mais animado dos três, aquele que passa cumprimentando todos na rua e não teve vergonha de parar para perguntar o que estávamos fazendo, é José Verdulino dos Santos. Indagado sobre sua idade, teve dificuldade em fazer as contas e entregou: “nasci em 10 de janeiro de 1940”, portanto, 82 anos.
Questionados sobre o companheiro de conversa Velho Chico, as respostas são convergentes sobre a sua importância. O mais pessimista do grupo é Antônio Reis. Para ele, o Rio está em processo acelerado de abandono e há muito com o que se preocupar: “Devia ter mais consciência para não desmatar. Sem obstáculos, a areia desce para o rio e vai acabar com ele”, disse. Já o xará, Antônio Alves, reforçou que tudo na região depende do rio, da beleza à fartura: “muitas pessoas dependem dele”. E Verdulino sentenciou: “se não fosse o rio a gente era mais pobre”.
PROCESSO OCUPAÇÃO: O Baixo São Francisco tinha origem na Cachoeira de Paulo Afonso, indo até a foz, entre Piaçabuçu (AL) e Brejo Grande (SE). Com a construção da Hidrelétrica de Xingó, em 1994, os habitantes da região passaram a considerar o Baixo São Francisco o trecho à jusante desta barragem, na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. A barragem tornou o rio intransponível como via de navegação, fazendo com que a área alagada fosse “varrida” do mapa imaginário das populações ribeirinhas. E os cânions, antes secos a maior parte do ano, se tornaram navegáveis e uma grande atração turística.
A margem sergipana inclui os municípios de Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Santana do São Francisco, Telha, Propriá, Amparo do São Francisco, Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes, Gararu, Porto da Folha, Poço Redondo e Canindé do São Francisco. No lado alagoano ficam Piaçabuçu, Penedo, Porto Real do Colégio, São Brás, Traipu, Belomonte, Pão de Açúcar e Piranhas. Os municípios de Olho d’Água do Casado e Delmiro Gouveia, na margem alagoana, foram parcialmente inundados pelo lago da barragem de Xingó e ficaram à montante.
Penedo ergue-se imponente sobre um rochedo às margens do Rio São Francisco e conserva um patrimônio histórico que foi palco de importantes acontecimentos do Brasil Colonial. As marcas dos colonizadores portugueses, holandeses e dos missionários franciscanos, permaneceram na arquitetura barroca de conventos e igrejas. Há, na cidade, edificações neoclássicas, art dèco e até exemplares de art nouveau do fim do século XIX, quando ocorreu seu apogeu econômico, com o renascimento da indústria do açúcar.
A cidade conta com centro histórico e sua paisagem edificada inclui alguns dos mais importantes bens da arquitetura religiosa do Nordeste, como o Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos e as igrejas de Nossa Senhora da Corrente e de São Gonçalo Garcia; e exemplares da arquitetura civil moderna, como o Hotel São Francisco, dos anos 1960. Mantida, essa diversidade rendeu o tombamento de seu conjunto histórico e paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1996.
Professor de História em Penedo, Adail Barbosa Vieira de Lima, conta que, em 1534, Duarte Coelho Pereira, primeiro donatário da Capitania de Pernambuco, desceu pelo litoral, adentrou pela foz do Velho Chico e encontrou um pequeno povoado que somente em 1560 foi oficialmente reconhecido pelo segundo donatário, Duarte Coelho Pereira de Albuquerque, como Penedo do São Francisco. Em 1636, foi elevada à categoria de Vila. Em 1660 os franciscanos chegaram e construíram o Convento e Igreja de Santa Maria dos Anjos. Somente em 1842, Penedo tornou-se cidade.
Um importante marco foi quando, em 1859, tornou-se sede do Governo Imperial com a visita de Dom Pedro II, Imperador do Brasil. Em 1866, foi aberta a navegação do Baixo São Francisco aos navios mercantes de todas as nações até o porto de Penedo. No ano de 1884 foi concluída a construção do Theatro 7 de Setembro.
De frente para a Orla do São Francisco, ergue-se a Igreja Nossa Senhora da Corrente, com detalhes arquitetônicos do barroco, rococó e neoclássico, decorada com azulejos portugueses do Império e piso de cerâmica inglês. Sua construção foi iniciada em 1764, pelo capitão-mor José Gonçalo Garcia Reis, e concluída por volta de 1790, pelo capitão de ordenança André de Lemos Ribeiro. Ela faz parte de um conjunto com duas outras construções, onde hoje funcionam uma pousada e o Museu do Paço Imperial.
CANGAÇO DEIXOU MARCAS: Subindo o Rio São Francisco, a 216 quilômetros de Penedo fica Piranhas, a Lapinha do Sertão, como foi apelidada carinhosamente por Dom Pedro II, que por lá também passou em 1859. Emancipada em 1879, ficou famosa por ter as cabeças do bando de Lampião (Virgulino Ferreira da Silva) exibidas na escadaria Palácio Dom Pedro II, sede da Prefeitura, história contada no Museu do Sertão, instalado prédio da Estação da Rede Ferroviária, com exposição permanente de peças ligadas ao cangaço, à Estrada de Ferro Paulo Afonso, à navegação a vapor, religiosidade sertaneja e costumes locais.
Segundo o Iphan, a localidade de Piranhas surgiu no século XVII e era, então, conhecida como Tapera. Conta-se que um caboclo pescou uma grande piranha em um riacho chamado “das piranhas”. Ele preparou e salgou o peixe, e o levou para sua casa, onde verificou que se esquecera do cutelo. E, voltando-se para o filho, disse: – Vá ao porto da piranha e traga o meu cutelo. Esta versão, transmitida de geração a geração, aparentemente deu origem ao nome Piranhas. A povoação de Tapera, com o decorrer dos anos, se organizou e, ao mesmo tempo, o povoado que surgiu à beira do riacho se estendeu até Tapera.
O estabelecimento da navegação a vapor, entre Penedo e Piranhas, impulsionou o crescimento local com a assinatura de um convênio entre o Governo da Província das Alagoas e a Companhia Costeira Baiana, em 1867. Na Casa do Patrimônio do Iphan, uma exposição permanente com maquetes de embarcações conta um pouco dessa história. O maior fator de desenvolvimento, entretanto, deve-se à construção da estrada de ferro, anos mais tarde. Em 1887, foi criada a Vila com território desmembrado de Pão de Açúcar e Água Branca e, em 1885, Piranhas passou a distrito.
A ligação ferroviária entre a capital pernambucana e as cidades ribeirinhas teve relevância nacional. A ativação da linha entre Piranhas e a cidade pernambucana de Jatobá, em 1891, foi determinante para a expansão comercial de toda a região. Após várias mudanças na divisão administrativa municipal, inclusive com mudanças do seu nome, tanto o município quanto a cidade passaram a denominar-se Piranhas, em 1949.
O sítio histórico e paisagístico de Piranhas foi tombado pelo Iphan, em 2004, incluindo o núcleo histórico da cidade, o distrito de Entremontes e um trecho de 13 km do Rio São Francisco. O tombamento justificou-se pelos seus valores históricos, arquitetônicos e culturais, por ser a região representante da ocupação e conquista do Estado, desde o início do século XVIII, e da integração social e comercial da Região Nordeste.
Localizada no sertão do Estado de Alagoas, Piranhas se divide em “cidade de baixo e cidade de cima”, em uma região da Caatinga cortada pelos rios São Francisco, Boa Vista (ou Piranhas), Urucu e Capiá. Um dos elementos destacados pelo Iphan, ao tombar este patrimônio, foi a preservação da paisagem do Rio São Francisco, importante meio de comunicação e integração entre os núcleos urbanos nordestinos. O perímetro de tombamento possui em torno de 1.000 imóveis.
Piranhas ainda mantém seu casario colonial disposto irregularmente em morros e baixadas, onde a diversidade cultural e as tradições locais atraem muitos visitantes. O percurso turístico-cultural da Rota do Imperador, criado pelo Governo de Alagoas, em 2009, incluiu o município de Piranhas. São muitos os fatos históricos que fazem do lugar um cenário único e a cidade também tem sido escolhida como locação de filmes e novelas sobre o tema do cangaço.
Simone Souza dos Santos, monitora do Museu do Sertão, reconhece que Piranhas tem um grande potencial turístico em história, geografia, ciências, literatura, mas acredita que, “dentro da proposta de desenvolvimento turístico, precisa se preocupar em preservar mais, explorar menos, ou melhor, explorar com responsabilidade e também inserir responsabilidade ambiental. É preciso inserir os piranhenses com mais constância dentro desse turismo, ajudar o vendedor de cocada, o de picolé, no sentido de dar suporte, de criar roteiros para ajudar a cidade e seus moradores. Eles fazem parte dessa história”.
OUTRAS HISTÓRIAS: Ainda há muito a se estudar sobre a ocupação da região do São Francisco. Mas uma coisa é certa. Não há uma única versão, um único ponto de vista. Desde o cultivo da terra com desmatamento intensivo e uso de pesticidas; a navegação; a pesca; até a construção de grandes centrais hidrelétricas e ao modernos parques eólicos e solares, muita coisa vem acontecendo e está por vir.
Juracy Marques é professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Ecologia Humana e do Departamento de Educação, com linha de pesquisa em Ecologia Humana, Povos e Comunidades Tradicionais do São Francisco e da Caatinga.
Ele conta uma história bem diferente da região, a começar pelo início da sua ocupação: “a Foz do São Francisco pode ter sido uma rota central dos grupos humanos que chegaram à América. Por essa razão ele guarda uma história muito importante. Mas qual é o contrassenso dessa história? É de que as grandes hidrelétricas apagaram parte dessa memória porque inundaram grandes territórios de ocupação pré-colonial e destruíram cemitérios, materiais líticos, cerâmicos, pinturas, ou seja, destruíram os territórios onde esses grupos certamente viveram durante milênios e que poderiam ser uma pista extraordinária para que entendêssemos a ocupação do continente americano aqui da Bacia do São Francisco. Mas o Rio ainda está aí para estudarmos. Espero que um dia a gente possa ter um país onde se invista na pesquisa de forma séria e, sobretudo, em pesquisas paleontológicas, arqueológicas que possam nos dar melhores respostas para essa questão de como foi a ocupação humana nesta região”, resume.
Em sua tese de doutorado, se ocupou de estudar os grupos indígenas que habitam o São Francisco as relações coloniais: “A injustiça mais evidente foi a primeira violência, decorrente da ação colonial, o genocídio que foi praticado contra as populações nativas do Brasil e por tabela do São Francisco. Ela é um capítulo muito indigesto da história do nosso País, da história do Velho Chico. E o genocídio contra essas populações, desde a chegada dos colonizadores portugueses, não parou”.
O professor relata que, em anos subsequentes, veio a apropriação desse território para criação de gado. Mas um momento que classifica como muito dramático de impacto contra essas populações foi o da implantação de um modelo energético que desrespeitou profundamente o modo de vida nos territórios: “foram mais de 250 mil pessoas atingidas diretamente e vários povos perderam seus territórios e não houve uma reparação adequada. Até hoje há pessoas que brigam na justiça para, depois de gerações, ter algum tipo de direito, mas esses empreendimentos foram implantados sob a ótica de uma política ditatorial”.
Ele ressalta que foi um modelo que não parou: “O projeto de transposição já foi no período democrático e desrespeitou totalmente e continua desrespeitando os modos de vida dos grupos humanos ribeirinhos”. E alerta: “aqui no Baixo São Francisco ainda há proposição de novas hidrelétricas, que são pensadas e implantadas sem que haja uma consulta prévia, sem que se considerem os modos de vida dessas populações. É um modelo de desenvolvimento que tem uma relação direta com o capital e que não respeita as populações, os modos de vida, a natureza. É uma proposta de desenvolvimento que propõe uma exploração do meio natural, um desrespeito aos grupos humanos, dentro de uma lógica de crescer, explorar sem medir as consequências. E agora, para piorar a situação, a proposta de implantação de uma usina nuclear. Os grupos sociais e as próprias comunidades estão reagindo de forma enfática e dizendo não a esse projeto tão absurdo no século XXI”.
Um exemplo levantado pelo professor Juracy Marques são as experiências do povo de Casa Nova: “Eles foram descrituralizados pela Barragem de Sobradinho, foram novamente desterritorializados com a proposta de grandes unidades de conservação e agora estão sendo impactados com os projetos minerários e com a proposta de implantação de grandes parques solares e eólicos. São modelos que chegam e retraumatizam grupos que não têm contato com uma preocupação nem do Estado, nem nenhuma outra estrutura que tem relação com esses modelos de desenvolvimento. Ao longo de séculos as comunidades ribeirinhas têm sido negligenciadas, banalizadas, violentadas por modelos de desenvolvimento que têm sido pensados para a bacia e que têm deixado grandes impactos que eu diria são impagáveis e inapagáveis”.
E como pagar? “Essa seria talvez a inquietação que nós temos que levantar. Na minha tese de doutorado eu analisei, por exemplo, como mensurar o valor do dano sobre a dimensão simbólica que foi quase toda destruída. Eram lugares sagrados para os povos indígenas, onde moravam os seus ancestrais, os seus encantados, só que o direito não mensura a dimensão simbólica ou não mensurava porque aos poucos essa dimensão tem ganhado espaço nos debates jurídicos. No caso do São Francisco a caótica mensuração do dano foi focada na perspectiva material. Uma casa, uma roça, uma cabeça de gado, mas a dimensão simbólica, os espaços sagrados foram totalmente apagados da negociação da reparação do dano. Eu me questionei na tese como mensurar o dano sobre a destruição dos lugares sagrados para as comunidades tradicionais, particularmente para os povos indígenas. E já tivemos um debate inclusive. Em fóruns jurídicos há quem diga que não é possível mensurar o valor. E nesse sentido é impagável por natureza. Mas isso por si só não resolve o problema. Essas comunidades precisam ser reparadas do dano histórico causado sobre os seus ambientes e os seus modos de vida”.
Para ele, “é tempo de olharmos para essas populações, é tempo de converter a riqueza ética em programas de atenção ao ambiente, à condição de saúde desses povos. E fazer o mínimo para cuidar do São Francisco porque os danos causados por todos esses empreendimentos precisam de fato ser reparados. Eu destacaria um debate que nós estamos fazendo numa publicação chamada ‘Barrando as Barragens’ que parece inusitada num primeiro momento. De que é preciso desmanchar as grandes hidrelétricas para reparar o São Francisco. Essa proposição foi feita pelo saudoso Pajé Armando, do povo Tuxá que desencarnou recentemente. Ele me disse que uma certa vez que só havia um jeito de devolver a alma do São Francisco. Seria tirar as paredes de cimento.
E finaliza: “eu acho que temos um tempo pela frente para discutir cada aspecto dessa reparação e ela vai desde o cuidado com os esgotos desses grandes centros urbanos que chegam sem tratamento, passando por programas de revitalização sérios, onde se mobilize as comunidades, onde se invista capital para que as comunidade possam cuidar desse rio, reflorestar, até chegar a essas experiências a exemplo da retirada dessas grandes estruturas de cimento que já não fazem mais sentido nesse novo século. E para que a gente possa ter um Velho Chico mais vivo. Mas destacaria que hoje é urgente que pensemos um modelo de reparação que cuide das pessoas que estão adoecidas e que esse processo de adoecimento que é de natureza física ou psíquica não aconteceu agora. Ele é produto de todo esse processo histórico de destruição e de violência que comunidades sofreram ao longo da história”.
EM COMUNHÃO COM O VEHO CHICO: Homem de cabelos e barbas compridas e brancas, usando uma jaqueta cáqui por cima de uma camisa branca com dizeres “Nordeste Potência”. Ele está parado às margens de um rio onde há barcos coloridos. Ao fundo céu nublado e montanhas
“O Rio São Francisco é a minha vida. Sem ele, prefiro morrer. Eu olho e ele me corresponde, a gente conversa. Vivo um triângulo amoroso com minha esposa e o Velho Chico. São 50 anos de convivência, três filhos, seis netos e ainda assistimos TV de mãos dadas. O Rio foi cúmplice do nosso amor desde as cartas que transportava pelas cidades onde morei até nos casarmos”. Poucas pessoas conhecem o Velho Chico como Antônio Jackson Borges Lima, 76. Aposentado do Banco do Nordeste (BNB), sua vida sempre esteve conectada ao Rio. Nascido em Igreja Nova (AL), ele escolheu a terra da esposa, Traipu (AL) para se estabelecer após a aposentadoria, em 1998. Sua atual trajetória teve início em Pão de Açúcar (AL), quando começou a coletar resíduos.
Sua primeira lembrança do Velho Chico vem da meninice, nos anos 1950. Mesmo que Igreja Nova (AL) ficasse a 40 quilômetros do Rio São Francisco, suas cheias anuais inundavam o quintal da casa, onde aprendeu a nadar e pescar. Mas essa dinâmica ficou no passado porque hoje o maior lago artificial do mundo, Sobradinho, controla a vazão do Velho Chico.
Depois disso, onde estivesse, passava todas as férias no São Francisco fazendo campanha. A família toda está envolvida também. Em 2001 fundou o Museu Ambiental Casa do Velho Chico, em Traipu. Mas, devido a questões operacionais, a partir de outubro, passa a funcionar em São Brás (AL). Nele está abrigada a maior biblioteca sobre o São Francisco que existe, com 380 títulos.
Para Jackson, apesar de muito ameaçado, o Velho Chico “insiste em viver” e a maior ameaça é a Usina Nuclear. “Esse é um investimento perigoso e desnecessário. A região é a mais rica em energia do Planeta, solar e eólica”. Sobre ameaças, o Mestre do Rio, como é conhecido na região, conta que havia uma grande variedade de peixes em suas águas. “A Barragem de Xingó matou a Piracema. Uma nova barragem, como se especula, seria o tiro de misericórdia”, resume.
“A produção de energia é uma marca do Velho Chico, um trabalho necessário, é uma engenharia muito inteligente, mas precisa ser responsável para não surpreender o barranqueiro. Eu mesmo já precisei gastar mais de R$ 1.000 com guindaste para retirar o barco de área que secou depois de o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) reduzir bruscamente a vazão do rio, sem comunicar com antecedência. Ele está muito degradado e um dos principais desafios é o assoreamento”, alerta.
PLANO NORDESTE POTÊNCIA-No último Dia Nacional de Defesa do Rio São Francisco (3 de junho), foram divulgados dados do Mapbiomas com indicação de que a Bacia do Rio São Francisco perdeu 50% da superfície de água natural entre 1985 e 2020, parte de um estudo realizado a pedido do Plano Nordeste Potência. Aliado a esse dado preocupante, hoje o Nordeste responde por 20% do total de energia elétrica gerada no Brasil. E mesmo com a inclusão de novos consumidores, especialmente com o Programa Luz para Todos, a região produz mais energia do que consome, exporta cerca de mil MW médios e tem capacidade para muito mais.
O estudo “Défict de vegetação nativa na Bacia do São Francisco”, feito por André Felipe Alves de Andrade, sob encomenda do Plano Nordeste Potência, revela que as propriedades da Bacia do São Francisco apresentam um déficit, considerando Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) combinadas, de 3.027.787 ha, o que representa aproximadamente 6,8% de toda a área da bacia. Estes déficits não estão homogeneamente distribuídos. Áreas de APP se encontram mais degradadas em alguns municípios de Minas Gerais, no Alto São Francisco, e em áreas na Caatinga de Alagoas. As áreas de RL se encontram mais fortemente deficitárias na Caatinga do oeste baiano, na porção de Cerrado de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Tocantins e áreas de Mata Atlântica de Sergipe e Alagoas.
O Plano Nordeste Potência prevê a recuperação de áreas degradadas e destaca a importância de um novo ciclo econômico para o Nordeste com oportunidades de negócios, empregos e inclusão construído com uma matriz energética renovável diversificada que contribua para a descarbonização global. Para isso, ele propõe caminhos como novas políticas públicas com ajustes nas gestões e planejamento integrado que impulsionem o aproveitamento mais eficiente e sustentável dos recursos regionais.
Propõe também uma expansão das centrais elétricas cuidadosa e respeitosa com as comunidades rurais e tradicionais e com o ambiente que integre as pessoas ao invés de impactá-las, tornando-se vetor de desenvolvimento local. Destaca que a revitalização da Bacia do São Francisco, aliada à gestão da água pode transformá-lo numa “bateria” de fontes renováveis na próxima década, considerando que mais energia solar e eólica permitirá melhor estocagem da água para momentos de menos chuvas com benefícios para seus múltiplos usos que incluem abastecimento, irrigação, turismo e navegação.
Eixos do Plano Nordeste Potência
Gestão pública direta com desenvolvimento participativo e articulação de planos
Capacitação técnica de mão de obra com promoção de educação ambiental e para setores da energia renovável
Participação Social com criação de fóruns permanentes e democratização da informação
Geração distribuída de energia renovável com redução das desigualdade de acesso e compensação socioambiental dos projetos centralizados
Revitalização da Bacia do Rio São Francisco com recuperação do passivo de vegetação, promoção de projetos de base comunitária de recuperação produtiva e promoção da geração elétrica complementar às hidrelétricas
Com 24 páginas, o Plano Nordeste Potência é resultado de uma coalizão de quatro organizações civis brasileiras: Centro Brasil no Clima (CBC), Fundo Casa Socioambiental, Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá) e Instituto ClimaInfo, com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS).
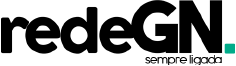

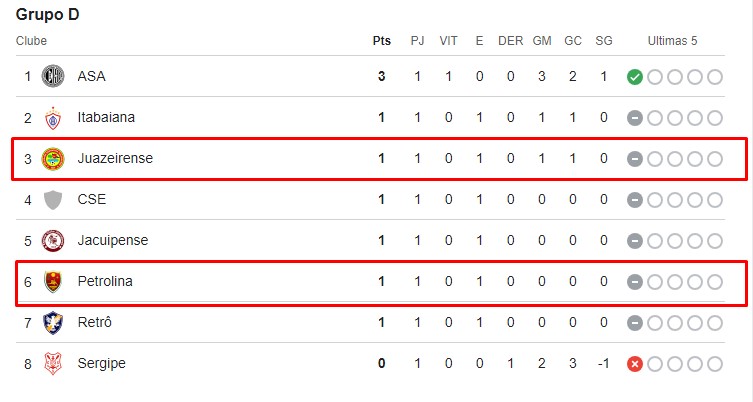













0 comentários